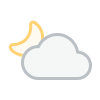Violência doméstica, desigualdade socioeconômica, gaslighting, abuso psicológico e relações marcadas por dinheiro e poder são alguns dos eixos presentes em A Empregada, adaptação do best-seller de Freida McFadden. Ainda assim, esses elementos funcionam mais como cenário do que como foco: o filme privilegia reviravoltas e foi pensado para chocar, virar a narrativa, confundir e manter o público envolvido: justamente o tipo de experiência que a plateia procura.
Desde o início, A Empregada cumpre o que anuncia: um thriller doméstico repleto de segredos sob a aparência impecável de uma família abastada. Millie (Sydney Sweeney, Euphoria), uma jovem com problemas financeiros, aceita trabalhar para os Winchester (Nina, interpretada por Amanda Seyfried, Mamma Mia!, e Andrew, vivido por Brandon Sklenar, É Assim que Acaba) e logo percebe que o novo emprego traz algo profundamente perturbador. Não surpreende vindo de Paul Feig, diretor acostumado a tramas de intriga e reviravoltas como Um Pequeno Favor (2018) e Outro Pequeno Favor (2025); aqui, porém, o exagero faz parte da proposta.
Estrutura narrativa e reviravoltas
A narrativa avança de modo aceitável nas duas primeiras seções, embora mostre traços genéricos, colocando personagens em situações que beiram o cínico — característica que se intensifica quando a história se volta para o rocambolesco e transforma a sucessão de giros em seu motor principal. Um flashback detalhado recalibra a percepção do público, sugerindo que certa personagem não é algoz, mas vítima. As viradas se acumulam, cada vez mais improváveis, exigindo do espectador uma suspensão de descrença progressivamente maior.
O público a que o filme se destina tende a aceitar esse pacto sem maiores reservas, movido pelo desejo de saber “o que acontece a seguir?” mais do que pela coerência dramática. Para leitores que não conhecem o livro, a fidelidade ao material original fica em segundo plano; como obra cinematográfica, A Empregada soa como um roteiro corriqueiro que se ancora no choque constante, em personagens à beira do colapso e em um desfile metódico de tramas, artimanhas e manipulações — algumas beirando o risível.
O resultado lembra uma história saída do universo do Wattpad (ainda em uso?), em que clichês são amplificados ao extremo. É um retrato quase simbólico, em preto e branco, de famílias ricas disputando poder em uma mansão impecável, enquanto a figura supostamente “pobre” é apresentada como uma loira que, na visão de Hollywood, costuma ser enquadrada de maneira específica desde Euphoria (2019- ), Observadores (2021) e Todos Menos Você (2023): frequentemente reduzida a seu corpo. Millie rapidamente se transforma em objeto de desejo para o anfitrião interpretado por Brandon Sklenar, e o desenvolvimento subsequente pede ao público, especialmente aos que não leram o livro, que aceite a aposta sem questionar demais; afinal, por que uma mulher atraente não faria sexo com um homem atraente?
O longa também acrescenta ao elenco o rótulo de “garanhão” com a presença de Michele Morrone, conhecido pela trilogia polonesa erótica 365 Dias. Quem espera a repetição da persona hipersexualizada que o tornou famoso pode se decepcionar: o ator aparece pouco, tem falas escassas e surge quase sempre vestido, atuando como elemento decorativo. É um desperdício de elenco, ainda mais em um filme tão consciente do apelo físico de seus intérpretes e que o explora.
Desempenho do elenco
Mesmo assim, A Empregada supera expectativas iniciais. Sydney Sweeney convence ao interpretar uma jovem de ar ingênuo, constantemente à sombra do perigo, enquanto Amanda Seyfried, atriz de reconhecida habilidade, sabe exatamente quando o texto pede cinismo, exagero e instabilidade, entregando esses elementos com precisão apesar de um roteiro fraco.
Temas, impacto e classificação
Por isso, o filme não se transforma em fracasso total. Apesar de tentar se levar a sério, são as reviravoltas (excessivas, caricatas e por vezes involuntariamente cômicas) que seguram — ou divertem — mesmo os espectadores mais céticos. Em meio a esse turbilhão, a obra sufoca os temas que evoca, sem interesse real em aprofundá-los ou perturbar verdadeiramente, salvo para públicos mais sensíveis: há um nível de grafismo e violência que justifica a classificação indicativa de 16 anos.
No fim das contas, trata-se de um “guilty pleasure”: entretenimento exacerbado e voluntariamente artificial. Não é um bom filme no sentido clássico (bem escrito, bem fotografado ou bem editado) e talvez nem reivindique tal status, mas provoca, diverte em certa medida e entrega, ao longo de duas horas, exatamente a experiência descartável que promete. Que os temas centrais encontrem espaço para debates em outras produções.