Se tem uma coisa que o capixaba entende, além de moqueca, é de tradição. Todo ano, as escadarias do Centro de Vitória ou as praças de Vila Velha e Serra se enchem de luzes, corais e aquela encenação que você já sabe de cor: Maria chega, José fica meio preocupado, os pastores se perdem no caminho e o Menino Jesus nasce. Aí você vira para o lado e pensa: “Uai, mas eu já vi esse filme ano passado!”.
Se o Natal fosse um filme, muita gente sairia da sala reclamando do roteiro previsível. Nasce o menino, toca sino, família briga, finge que não brigou, come demais, promete mudar no ano que vem. Corte. Fade out. Reprise em doze meses.
Pois é, você pode até achar que o presépio é só um “spoiler” de dois mil anos atrás, mas a verdade é que ele é o ritual mais resiliente da nossa cultura.
Mas cultura não funciona como estreia de cinema. Funciona como ritual. E ritual não existe para surpreender, existe para organizar o caos. O sentido cultural do Natal está justamente nisso. Ele marca o tempo, pausa o corre, cria um marco simbólico onde a sociedade tenta se lembrar do que anda esquecendo. Cuidado, partilha, escuta, presença. Nem sempre consegue, mas tenta. E tentativa também é gesto cultural.
Para entender por que paramos tudo para ver a mesma história, precisamos falar de um cara chamado Victor Turner. Ele era um antropólogo britânico que explicava o ritual como um “entretempo”. Sabe aquele momento em que você está no meio de uma festa e, por um segundo, esquece que tem boleto pra pagar? Turner chamava isso de liminaridade.
No ritual do presépio, o tempo comum para. Não é passado, nem futuro; é um “agora” simbólico onde as hierarquias afrouxam. É o que ele chama de communitas. É aquele momento raro em que o Dono da empresa e o estagiário choram ouvindo a mesma cantata. Ali, ninguém é cargo ou arroba do Instagram; todo mundo é só gente.
“O rito não explica o mundo. Ajuda a suportá-lo.”
Você assiste à mesma peça natalina ou ao mesmo filme de natal e não porque esqueceu o roteiro, mas porque você mudou. Na arte, repetir não é falta de criatividade, é aprofundamento. Na rua, o nascimento precário de Jesus vira um espelho das nossas próprias feridas urbanas.
Imagine a cena: você liga a TV e lá está um filme que começa com Nova York nevando (mesmo que aqui a gente esteja derretendo no sol de Camburi). O protagonista tem um trauma, volta para a cidadezinha do interior e encontra o amor em um vendedor de árvores de Natal. Por que a gente consome isso?
O presépio funciona tão bem como cantata porque não precisamos de suspense. O Natal é o “conforto” da playlist de sucessos. Tentar transformar o nascimento de Jesus em um thriller de ação com reviravoltas estilo Christopher Nolan talvez fosse demais para o nosso coração. A gente quer o clássico!
Porque o Natal pede fórmula. É o que chamamos de ansiolítico narrativo. Sim, Ansiolíticos… aqueles medicamentos que agem no sistema nervoso central para diminuir a ansiedade, medo e etc, que te fazem relaxar e acalmar. Ansiolítico narrativo de Natal é aquela história feita não para provocar pensamento, ela é feita mais para acalmar o sistema nervoso coletivo. No Natal, isso ganha força porque o período é emocionalmente instável (emocional e financeiramente). Há cobrança de felicidade, encontros forçados, memórias mal resolvidas, falta de dinheiro, ausência de quem não está mais. O ansiolítico narrativo entra para dizer: calma, vai dar certo. Nem que seja só nessa história. Filmes genéricos, cantatas tradicionais, presépios repetidos, peças que não mudam o texto há décadas… todos cumprem essa função. Então elas não surpreendem, mas, amparam.
Se hoje você sente aquele “espírito natalino” de querer ajudar o próximo (ou pelo menos não xingar no trânsito), agradeça a Charles Dickens. Em 1843, com “A Christmas Carol”, ele transformou o Natal de uma data discreta em um ritual moral moderno. O personagem Scrooge não muda porque ficou com medo do fantasma, mas porque percebeu que a salvação é coletiva.
Dickens entendeu que o ritual serve para costurar gerações. O teatro natalino faz exatamente isso: é a porta de entrada para os mais jovens entenderem valores como solidariedade, sem parecer um sermão chato de domingo de manhã. No palco, a ética ganha corpo, tropeça e aprende.
Victor Turner chamaria isso de ritual de reafirmação. Não é o novo que importa, é o reconhecível. A repetição, mesmo que você não entenda, não empobrece, estabiliza. O bom ansiolítico narrativo não é o que apaga o problema, mas o que permite respirar para encará-lo depois. Dickens sabia disso. Por isso Scrooge muda, mas a miséria continua ali, pedindo ação. Não cura o mundo, mas baixa a febre, o calor. Filmes genéricos existem porque são economicamente seguros e atendem à lógica do ritual: a gente não quer surpresa, quer confirmação. Queremos acreditar, por 90 minutos, que o mundo ainda tem conserto. Como dizem por aí (ou talvez eu tenha inventado): “É melhor um final feliz previsível do que um boleto inesperado”.
Claro, nem tudo são luzes e piscas-piscas de LED. Tem gente que detesta apresentação de Natal. E sabe de uma coisa? Às vezes, eles têm razão.
Quando o ritual vira “presépio de isopor” (aquela coisa automática, sem alma, só para político tirar foto) ele morre. O ódio ao Natal muitas vezes é, na verdade, um incômodo com a hipocrisia. É difícil ouvir sobre “paz na terra” quando o cartão de crédito está no vermelho e a família está brigada por causa de política no grupo do WhatsApp.
Há também o excesso de repetição vazia. A mesma música, o mesmo enredo, o mesmo discurso de amor universal enquanto o mundo segue desigual, violento e exausto. Isso cria um curto-circuito emocional. A antropologia ajuda a entender. Ritual funciona quando gera pertencimento. Quando falha, produz exclusão. A isso se soma luto, solidão, conflitos familiares e pronto: nasce o ódio sazonal. Tem ainda o fator cultural. O Natal virou um espetáculo de consumo. Afeto parcelado em doze vezes. Felicidade com prazo de validade até o dia 26. Para quem enxerga isso, a data soa cínica. Não é falta de sensibilidade, é excesso de lucidez.
Mas o paradoxo é que, mesmo quem não acredita, acaba indo. Por quê? Porque o Natal opera num registro antes mesmo de uma fé. É amor, compaixão, abrigo. E, num mundo cada vez mais caótico e digital, ter um lugar (físico e emocional) para se sentir acolhido é o verdadeiro milagre. A falta de um contato físico ou a sensação de se sentir amado.
No fim das contas, o presépio volta todo ano porque precisamos da pausa. O presépio é aquela música que você já sabe de cor. Você não a escuta para descobrir o refrão, mas para se lembrar de quem você era quando a ouviu pela primeira vez.
Todo Natal alguém diz “o importante é estar junto”. Normalmente é a mesma pessoa que passa o resto do ano fugindo do grupo do WhatsApp da família. Desculpa, brincadeiras à parte. O impacto disso na cultura das pessoas é direto. O Natal ensina, mesmo sem querer. Ensina crianças a participar de rituais coletivos. Ensina adultos a lidar com memória, ausência e expectativa. Ensina que pertencimento não é natural, é construído. Às vezes mal construído, mas ainda assim construção.
Agora vamos ao ponto espinhoso. As Releituras Natalinas funcionam? Eu, particularmente, acredito que sim, quando entendem que repetir não é copiar. Funcionam quando mudam o lugar, o corpo, a rua, a questão. Um presépio numa escadaria do Centro de Vitória fala de desigualdade. Num teatro fechado, fala de contemplação. Numa periferia, fala de resistência. A história é a mesma, mas o subtexto muda conforme a ferida do presente. Quando a releitura só troca figurino e mantém o discurso embalado a vácuo, vira enfeite (trocadilho intencional). Quando escuta o tempo em que acontece, vira comentário social. O bom Natal não pede fé obrigatória nem felicidade compulsória. Ele oferece um espelho simbólico e diz: “olha, estamos juntos nisso”.
Fora e dentro do contexto, (sim, uma pequena autopromoção) vou mostrar um vídeo que eu participei, que fala sobre o natal brasileiro. Assista se quiser:
Em um mundo que corre na velocidade de um clique e descarta tudo como se fosse story de 24 horas, o presépio e as cantatas são um refúgio de permanência. É o momento em que o tempo para de ser “tempo de produção” e volta a ser “tempo de encontro”.
Como diz o ditado popular: “O bom filho à casa torna”. E o Natal é essa casa simbólica. Assistir ao mesmo rito não é falta de opção, é uma escolha pelo afeto. É dizer que, apesar de todo o caos urbano e da correria da vida, a gente ainda consegue sentar junto para ouvir uma história que não tem plot twist, mas que tem verdade.
O presépio é aquele porto seguro onde a gente ancora o barco para recalibrar a bússola. Você pode até chegar lá achando que vai ver “mais do mesmo”, mas garanto que, ao final da última nota do coral, quem terá mudado é você. Afinal, a cena é de isopor, mas a emoção — essa sim — é de carne, osso e esperança.
Ah, quase esqueci… Feliz Natal a Todes.



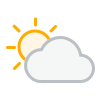






Lindo texto. nos trás a reflexão do mundo em que vivemos onde tudo passa voando e nos lembra dos valores que realmente precisamos para nos reconectar com a vida real.
Eu particularmente, católico, nao tenho muita paciência (ou tempo) de ir as apresentações natalinas de praças e teatros mas sei de pessoas que choram no mesmo ” Ja nasceu Deus menino” todo ano.
Natal é tempo do amor maior que podemos ter é lembrar do próximo mesmo que ele nao seja tão próximo, mas olhar e de uma forma ou outra desejar a este coisas boas.
Parabéns por mais um texto sensacional e
Feliz Natal.
Muito obrigado pelo seu comentario. Você retratou realmente o que eu queria dizer.
O Natal não é pressa, não é correria, É com calma e alegria. Desejar o bem de longe é um gesto bonito, Mas o amor de verdade não cabe no infinito.