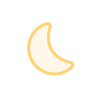Midas está na cozinha. Um tomahawk folheado a ouro 24 quilates brilha, com apenas a alça comprida do osso exposta. Perfurada com uma faca, a placa espessa e dourada revela ser carne de verdade, rosada em tons desiguais e envolta em gordura. Um vapor sobe, como se fosse de um animal que acabasse de ser abatido.
Esse bife —marca registrada do chef turco Nusret Gokce, mais conhecido como Salt Bae— aparece num vídeo que viralizou em novembro, no qual o próprio Gokce entrega o bezerro dourado à mesa do general To Lam, ministro da Segurança Pública do Vietnã, na steakhouse Nusr-Et, em Londres.
O chef fatia a carne e bate de leve nas fatias, fazendo-as tombar como dominós. Depois pega uma das fatias com a ponta da faca e estende o braço em direção ao convidado de honra. O general abre a boca e aceita o bocado, como se não fosse mais do que é devido.
O vídeo foi postado na conta de TikTok de Gokce e deletado pouco depois, mas isso não impediu que cópias dele circulassem nas redes sociais no Vietnã. Segundo recibos que circularam online das refeições de outros comensais na Nusr-Et, um tomahawk dourado estava custando entre 850 e 1.450 libras na época, mais ou menos US$ 1.155 a US$ 1.975.
O valor é significativamente superior ao salário oficial de Lam, que seria US$ 675 mensais, sendo que a renda média mensal per capita no Vietnã é de cerca de US$ 180.
Houve indícios de possível corrupção: quem pagou pela refeição? De onde veio o dinheiro? Mas algumas pessoas acharam a cena ofensiva por questão de princípio —ver um funcionário do Partido Comunista, um defensor do proletariado, fazer um jantar tão opulento num restaurante.
Outras chamaram a atenção para a exibição triunfal de materialismo logo após a romaria do general Lam ao túmulo de Karl Marx, o filósofo revolucionário “baseado em cujas teorias o povo vietnamita derrubou sistemas de opressão regidos por colonialistas e imperialistas”, conforme um press release do governo.
A crítica parece justa. Funcionários do governo deveriam se pautar por um padrão ético mais elevado que as pessoas comuns. A questão da corrupção é motivo de preocupação especial num país que sabidamente reprime a dissensão.
(Na verdade, a dissensão é da competência desse ministro em particular, e pouco após o incidente com o bife dourado a polícia de Danang interrogou um vendedor de miojo que postou um vídeo dele próprio imitando os gestos operáticos de Salt Bae.)
Mas será que o crime aqui —se é que existe crime, em sentido ético, senão legal— é mera hipocrisia? Desembolsar alguns milhares de dólares em uma única refeição só é aceitável para quem abraça o capitalismo abertamente, desde que não finja preocupar-se com a diferença entre ricos e pobres?
No outono de 1975, quando Nova York estava à beira da falência, num ano de medidas de austeridade que incluíram demissões em massa de funcionários públicos e cortes radicais nos serviços sociais e de segurança pública, o New York Times publicou reportagem de primeira página sobre um jantar para duas pessoas que custou US$ 4.000 —mais de US$ 20 mil em dinheiro de hoje.
Não foi parte das últimas notícias, não foi uma reportagem em tom de denúncia nem uma crítica a líderes que se desviaram do bom caminho —foi um texto descontraído do editor de comida do jornal, Craig Claiborne, sobre uma noite fora num restaurante parisiense de alto padrão em que ele degustou 31 pratos (lagosta, foie gras, faisão, trufas) e nove vinhos diferentes.
Vale destacar que Claiborne não gastou seu próprio dinheiro, ou não muito: ele ganhara um jantar de graça por qualquer preço, pago pela American Express, num leilão filantrópico no qual fez um lance de US$ 300 (cerca de US$ 1.500 em dinheiro de hoje).
Apenas então ele começou a pesquisar a refeição mais cara que poderia encontrar. Poderíamos descrevê-lo como um consumidor sensato que buscou o retorno máximo de seu investimento, mas os leitores que inundaram o jornal com cartas iradas pensavam diferente.
“Repulsivo”, pronunciou um deles. “Decadente metido a besta”, escreveu outro. “Imoral.” “Perdulário.” “Uma piada de péssimo gosto.” “Totalmente errado.”
Mesmo o Vaticano teria dado sua opinião: “Escandaloso”. Claiborne respondeu que sentia muito que eles pensassem assim, mas será que teriam se incomodado igualmente se ele tivesse ganho um Mercedes-Benz em vez do jantar?
É verdade que ninguém vai às ruas protestar apenas por falta de um Mercedes. Pela doutrina capitalista prevalecente, a maioria de nós aceita que não temos todos acesso às mesmas coisas; algumas pessoas dirigem carrões, outras andam em carros caindo aos pedaços, ainda outras se viram com bicicletas ou se deslocam a pé.
Fomos ensinados não a denunciar artigos de luxo, mas a cobiçá-los, com base na teoria de que, se trabalharmos o suficiente, um dia também nós poderemos estar ao volante daquele AMG One.
Ao mesmo tempo, defendemos a mobilidade como um bem social. Por isso nossos impostos financiam o transporte público, por ineficiente ele seja. Poderíamos argumentar que a comida é a mesma coisa.
Algumas pessoas se banqueteiam com ortolans —pássaros canoros encharcados em Armagnac e comidos inteiros, com todos seus ossinhos crocantes—, enquanto outras precisam contentar-se com um mingau ralo. O governo intervém na medida do necessário, oferecendo assistência sob a forma de vales-alimentação, bancos de alimentos e restaurantes populares, cada um com suas próprias normas e limitações.
Só que a comida integra uma ordem diferente. É uma necessidade básica, reconhecida como tal na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.
Segundo estimativa das Nações Unidas, em 2020 2,37 bilhões de pessoas —quase um terço da população mundial— sofreram períodos sem ter o que comer ou sem acesso regular a nutrientes, enquanto 22% das crianças de até cinco anos de idade apresentaram crescimento atrofiado.
Assim, encarar a comida como simplesmente mais um produto, algo cujo preço é determinado pelo mercado, sendo elevado pelos caprichos da demanda, e não pela necessidade, é aceitar que algumas pessoas ficarão sem comida, vão adoecer ou morrer de fome. É permitir que isso aconteça.
Logo, existe um crime, sim: pessoas estão morrendo de fome ou ficando subnutridas. Mas ainda não estabelecemos uma correlação entre a indulgência de uma pessoa e o sofrimento de outra. O crítico de restaurantes do NYT Pete Wells observou que sente uma pontada de vergonha quando faz refeições de preço exorbitante.
A sensação é que é errado gastar livremente com algo tão efêmero quanto um jantar requintado enquanto outras pessoas passam fome. Mas será que é? E, se sim, por que, além de um senso de decência básica e solidariedade com as pessoas menos afortunadas?
Mas deixar a cargo do indivíduo resolver, por meio da abstinência de certos prazeres, algo que é na realidade um problema sistêmico, é desviar-se das causas do problema.
Viver dentro de um sistema envolve até certo ponto ter cumplicidade com o sistema, mas optar por não frequentar um restaurante de alto padrão não vai necessariamente melhorar a vida de ninguém, a não ser que você doe para fins beneficentes o dinheiro que gastaria nesse restaurante.
Claro que, do ponto de vista utilitário, é exatamente isso que você deve fazer: pegar o dinheiro que teria gasto com foie gras e distribuí-lo de uma maneira que maximize o número de pessoas que serão beneficiadas.
Do ponto de vista religioso, seria melhor vender tudo que você possui e entregar o dinheiro aos pobres. Mas estamos falando aqui não de santos, simplesmente de pessoas comuns tentando ser éticas. É pecado comer um pouco de caviar de vez em quando? Qual é a dívida que contraímos com outros quando comemos?
Comer é um ato intrinsecamente egoísta. Comemos para nos conservarmos vivos. E frequentemente comemos outros seres vivos, acabando com a vida daqueles que enxergamos como inferiores (animais) para promover nossa própria.
Como destacou o o americano Leon R. Kass, especialista em bioética, em “The Hungry Soul” (1994), comer é um verbo transitivo: “Comer envolve necessariamente comer alguma coisa”. Essa coisa deixa de ser ela própria quando a definimos como comida, e, uma vez consumida, é absorvida em nós e se converte em nós.
É isso que torna o ato de comer tão poderoso como metáfora. Vemos o que fazemos a outros seres, logo, tememos ser devorados nós mesmos após a morte —virar comida de vermes, como dizem.
Esse destino se torna suportável graças a certas cosmologias que insistem que nosso verdadeiro eu não é limitado pela materialidade —que possuímos uma alma que persiste depois de nossa carne ter sido rudemente consumida. O jejum é uma forma de purificação em um contexto religioso, mas pode também ser visto como uma recusa em fazer parte do sistema.
Espere aí —será que raciocinei até me encurralar num beco sem saída? Isso significa que não podemos comer nada, ou, pelo menos, não podemos comer sem sentimento de culpa?
Uma parte grande da moralidade consiste em legislar o prazer, ou porque ele distrai você daquilo que realmente tem importância ou porque prejudica outros. O prejuízo ao outro, no caso de uma refeição lauta, ainda não está claro.
Quando denunciamos o preço do bife dourado, estamos tentando envergonhar os comensais de modo que eles façam uma reparação, doando uma soma equivalente aos pobres? (Na outra ponta da discussão, há quem critique pessoas que vivem da assistência pública por ocasionalmente usarem seus vales-refeição para comprar patas de siri ou bolos de aniversário, como se apenas os ricos merecessem esses prazeres.)
A indignação é uma arma genuína, uma tentativa de atrapalhar e corrigir o sistema, ou o máximo que podemos esperar é um pouco mais consciência dos males do mundo e de gratidão por nossos próprios privilégios e sorte, como quando os pais mandam seus filhos limparem seus pratos porque há gente passando fome em outras partes do mundo? Será que é tudo performático?
Encarando a questão sob outra ótica, a verdade possivelmente indesejável é que a comida deve ser cara, ou, pelo menos, mais cara do que é, em vista do ônus que a agricultura acarreta ao meio ambiente e do trabalho necessário para o plantio e a colheita.
Normalmente um terço da receita dos restaurantes é gasta com ingredientes e outro terço para pagar a seus funcionários um salário que deve pelo menos ser o suficiente para viverem razoavelmente. Há também a questão do valor da comida verdadeiramente excepcional, comida que é testemunho da criatividade ou maestria de um chef. Será que isso não é digno de recompensa?
Talvez seja mais difícil justificar as batatas fritas de US$ 200 feitas de batatas regadas com Dom Pérignon, fritas em gordura de ganso e polvilhadas com pó de ouro e trufas negras, que podem ter sido inventadas apenas para chamar a atenção do livro Guinness de Recordes Mundiais (como de fato ocorreu), ou a pizza de US$ 10 mil, divulgada como “a mais cara do mundo”, com cobertura de caudas de lagosta e três tipos de caviar, servida na privacidade de sua própria casa e acompanhada de Rémy Martin e Krug.
Mas talvez esse excesso deva apenas nos fazer rir. Pois o problema real do bife folheado a ouro é que o ouro comestível não tem sabor. É puro enfeite, e além disso é um ingrediente barato —custa em torno de US$ 2 a folha. Condenamos, mas poderíamos igualmente bem zombar, os comensais ricos que se deixam seduzir por coisas reluzentes —que pensam que pelo simples fato de o preço ser alto, estão recebendo algo especial.